- Nenhum produto no carrinho.
Acessar
Cadastre-se
Receba nossas novidades por e-mail
Inscreva-se em nossa newsletter para receber novidades e promoções em primeira mão!
Updating…
- Nenhum produto no carrinho.
Inscreva-se em nossa newsletter para receber novidades e promoções em primeira mão!
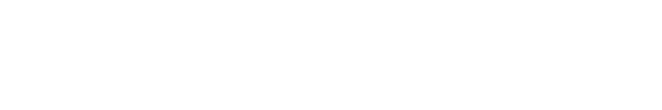
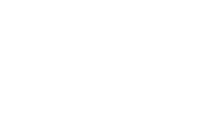
COLUNA LIVRE
A escrita como vício, conversa realizada em 23 de novembro de 2021, por ocasião do Circuito Marguerite Duras, teve entre os convidados/as a pesquisadora Isabela Bosi, que nos brindou com a leitura de um texto cheio de rigor e profundidade, o qual, a pedidos, reproduzimos aqui no Blog da Relicário, por ocasião da chegada de Hiroshima meu amor, segundo volume da Coleção Marguerite Duras, que se encontra em pré-venda.
O INTERMINÁVEL COMO RISCO
por Isabela Bosi
A ideia de uma escrita como vício aponta para muitos caminhos possíveis na obra de Marguerite Duras. O primeiro talvez seja justamente a relação da sua escrita com o álcool. Inclusive, em Escrever, Duras fala que a solidão quer dizer também a morte ou o livro, mas, antes de tudo, o álcool, o uísque. Como se morte, livro e álcool tivessem na fundação, como base, a solidão – ou melhor: como se fossem também solidão, em si. Para Duras, o álcool transfigura os fantasmas da solidão, ao substituir o outro que não está. Talvez seja possível dizer o mesmo do gesto de escrever, como sendo um modo de enfrentar uma solidão que é própria da escrita e, ao mesmo tempo, se transfigura na escrita.
Retirar a palavra do curso do mundo
Maurice Blanchot talvez concordasse com Duras, quando dizia que a obra é sempre solitária e aquele que escreve, portanto, pertence ao risco dessa solidão. Para Blanchot, a solidão acontece ao escritor por força da obra e se revela numa escrita interminável, incessante, que retira a palavra do curso do mundo. Esse é um dos possíveis caminhos de leitura da proposta de uma escrita como vício.
No dia 28 de setembro de 1984, Duras deu uma entrevista ao jornalista Bernard Pivot, no programa de televisão Apostrophes, na França. Pivot, já na metade da entrevista, começa a perguntar, um tanto insistentemente, sobre a relação de Duras com o álcool, do porquê de ter se tornado alcoólatra, de como começou a beber, de como foi o período de desintoxicação pelo qual ela tinha acabado de passar – enfim, muitas perguntas bastante inconvenientes. Duras respondeu a todas, quase sempre de maneira direta: bebendo, é assim que as pessoas se tornam alcoólatras. Pivot, então, faz uma última pergunta a esse respeito. Ele quer saber se ela, depois de ter escrito um livro como Détruire, dit-elle (1969), não teve vontade, a certa altura, talvez até por razões literárias, de se destruir? Fiquei com essa pergunta ressoando por um tempo quando comecei a pensar neste texto, sobretudo por causa do verbo que ele escolheu – destruir-se –, considerando a importância de uma ideia de destruição na obra de Duras e, principalmente, na forma como ela contorce os sentidos dessa palavra.
Pivot e muitos de nós temos a tendência de associar todo vício à ideia de destruição, de autodestruição, mas talvez fosse mais interessante fazer uma pergunta anterior, no caso: o que é destruição? Ou: o que quer dizer destruir-se, na escrita de Duras? Ou mesmo: escrever já não seria, em si, um gesto de destruição, ao retirar a palavra do curso do mundo, como dizia Blanchot, numa escrita interminável, como risco e solidão?
Também é Blanchot quem dizia que, quando escrever é entregar-se ao interminável, o escritor que aceita sustentar essa tarefa perde o poder de dizer ‘Eu’. Em outras palavras, ao escrever, aquele que aceita o peso do interminável deve abandonar o Eu, destruir o Eu no texto, entregar-se ao interminável da escrita, ausentar-se de si, calar-se, ou melhor, penetrar o silêncio. Para Duras, escrever é antes desaparecer, tornar-se outra coisa, na tentativa de retirar o eu tagarela, como ela dizia, da frente do eu que escreve.
Perder o poder de dizer Eu já não seria um modo de (auto)destruição?
Experiência limite
Em outra entrevista, de 1987, Duras diz que começou a escrever para fazer o silêncio falar, o silêncio sob o qual seria esmagada – como se somente assim, no limiar do dizível, que a literatura pudesse ser produzida. Ela escrevia movida por uma pulsão, no fim do mundo, no extremo de si, na sombra interna. Para Duras, portanto, escrever é inaceitável, está próximo de uma experiência limite, é procurar morrer de escrever, e sem isso a escrita não vale a pena. Era com essa intensidade que ela escrevia o inaceitável no fim do mundo, no limite da representação e da linguagem.
Então, em vez de temer, Duras defendia uma ideia de destruição, especialmente depois de viver a Segunda Guerra e o movimento de Maio de 68. Claro, não se trata aqui de uma destruição que utiliza as mesmas armas das instituições de poder, mas uma destruição que parte, justamente, do fim dos mecanismos totalitários, das máquinas de matar, como ela dizia – e isso, em Duras, tem muito a ver também com uma destruição da linguagem.
Talvez Bernard Pivot não tenha se dado conta, mas quando pergunta a Duras se ela teve, em algum momento, vontade de se destruir, ele toca num dos pontos mais importantes dessa escrita incessante, interminável, ou mesmo como vício. Para ela, a tarefa da literatura é dizer o que normalmente não é dito. A literatura deve ser escandalosa. Já não faz sentido criar algo que reproduza o que está posto, o que já foi dito e redito. É preciso correr algum risco. Escrever, portanto, é destruir-se na linguagem e destruir a linguagem, criar um jogo a partir da linguagem fora de seus usos comuns – calar o eu tagarela e fazer o silêncio falar.
Duras insistia que a única política possível é que o mundo vá a sua perda, que o mundo se acabe, e o mesmo vale para a escrita. Mais uma vez: não se trata de uma destruição como querem as máquinas de morte, o Estado totalitário, mas uma destruição, um fim, que abra caminhos para novos começos – na política e na literatura. Se todo vício é também uma espécie de obsessão, de fascínio e de desejo, podemos dizer que a destruição defendida por Duras talvez tenha sido o seu maior vício, especialmente a partir de 1970, quando assume de forma radical a destruição no centro de sua escrita – e também de seu cinema e seu teatro.
Escrita como um vício de destruição. Não um desejo de morte, como insinua Pivot em sua pergunta, mas um desejo de mudança, de fazer falar o silêncio, de assumir o risco da solidão de si e da própria obra, sempre interminável.
Selvagem solidão
Para Duras, escrever é, ainda, ser selvagem. Ela diz isso talvez pela primeira vez no livro Escrever, mas repete muitas vezes, inclusive em seu último livro publicado em vida, em 1995, intitulado C’est tout, ao dizer-se uma escritora selvagem e inesperada. Essa selvageria foi, muitas vezes, interpretada pelos outros negativamente como loucura, mas, para ela, ser louca é nunca se adaptar à vida. Na escrita, a loucura está sempre muito próxima. Só quem é louco escreve completamente.
Sobretudo em relação às mulheres que, na Europa Ocidental, desde a Idade Média, ao mergulharem profundamente na solidão, esperando os homens regressarem das Cruzadas, aprenderam a se comunicar com os animais, as árvores e as pedras. Para prevenir que esse discurso não codificado se espalhasse, elas foram punidas e queimadas nas fogueiras. Para Duras – leitora atenta de Jules Michelet –, nós, mulheres, ainda estamos nessa situação. Não houve mudança de fato.
É, portanto, na solidão que a mulher – que Duras – escreve. Em vez de eliminar o silêncio ou temer a sua ambiguidade, ela expressa e abraça o vazio do silêncio na escrita. Assim, o desejo, a solidão e a loucura participam da escrita de Duras, não como elementos secundários, mas como condição primeira de uma escrita selvagem, permeada de silêncios. Enquanto, para uns, esse ser selvagem pode parecer um modo de autodestruição, para Duras é essa a única maneira possível de escrever.
Para terminar, destaco trechos de “O sonho feliz do crime”, artigo publicado em 1981 no livro Outside. Trata-se de um texto extremamente atual que conversa, de muitos modos, com a ideia de destruição tal qual proposta por Duras:
Recordo-me de um sonho que tinha muitas vezes durante a guerra. Era um sonho feliz. Sonhava com a exterminação da Alemanha. […] Eu criava a destruição do paraíso nazista – sim, tratava-se exatamente da destruição de uma identidade paradisíaca – eu construía o deserto. […] Este sonho, todo mundo o teve, todo mundo o construiu. A diferença que há entre as pessoas que tiveram este sonho é que, acordadas, algumas o revelaram e outras, não. […] A diferença que há entre mim, os nazistas e os stalinistas é que, enquanto eles ignoram que são portadores do crime, eu sei isso a meu respeito. A diferença não está no sonho, mas sim entre os que veem e os que não veem que o mundo está em cada um dos homens que o compõem e que cada um deles é um criminoso em potencial. Os nazistas eram seres inocentes. […] Esquecer que a todo momento paira sobre o destino dos povos a ameaça do aparecimento de um Hitler, de um Stálin, de um Pinochet, de um Xá do Irã ou dos seus sucessores é já fazer parte do crime.
Isabela Bosi é doutoranda em Literatura e Crítica Literária na PUC-SP e mestre em Memória Social pela UniRio. Formada em Jornalismo pela UFC, estudou História da Arte na Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Publicou os livros Bar do Anísio: casa de liberdades (2013), Quase e Sobre viver (ambos em 2019).
Aproveite aqui no site a pré-venda de “Hiroshima meu amor” com kit ecobag ou 10% de desconto!
Posts relacionados
COLUNA LIVRE
UMA FORMA DE CORAGEM PARA A ESCRITA por Rafael Gallo Tem sido difícil escrever. Não há uma Grande Guerra em curso, ninguém que eu amo foi tirado de mim, nem tenho sido presa de algum vício, mas ainda assim tem sido difícil escrever. Provavelmente, por viver tempos nos quais a ameaça à vida se …
COLUNA GABINETE DE CURIOSIDADES
NOSSOS 8 ANOS DE LIVROS por Maíra Nassif [Este texto foi escrito pela editora Maíra Nassif, no dia 9 de outubro de 2021, aniversário de 8 anos da Relicário] Devo dizer que fiquei bem contente pelo aniversário de 8 anos da Relicário cair num sábado. HOJE! Isso porque posso estar aqui, sentada …
COLUNA MARCA PÁGINA
O MANTO ESTRANHO DO SILÊNCIO por Ana Elisa Ribeiro Há alguns dias, postei no Facebook um parágrafo meio amargurado. Confessei que atravesso uma espécie de desânimo literário, próximo à desistência, mas ainda contaminado por uma paixão que talvez vença a disputa. Uma tristeza criativa, uma espécie de desilusão, que termina por minar um …
COLUNA PINDORAMA
NÓS VIEMOS DA SELVA por Rafael Freitas da Silva Vem da Presidência da República finalmente um assunto digno e benigno para a reflexão de todos os brasileiros. Na verdade, da República Argentina. Pois lá o mandatário Alberto Fernández verbalizou, em uma conferência com o primeiro-ministro espanhol, em Buenos Aires, um ditado portenho ainda pouco …